Não tive o privilégio de ser seu aluno, mas tive a sorte de conhecê-lo através de uma amiga de quem Nelson Gomes foi professor no curso de Filosofia da UnB. Nesta entrevista, busquei abrir espaço para uma breve amostra de sua compreensão sobre alguns dos problemas fundamentais que ocupam os debates contemporâneos sobre Filosofia, Educação e Política.
Como avalia a universidade brasileira em relação ao ensino, à pesquisa e à formação, tanto na especialidade de cada área quanto para a cultura em geral?
Qualquer avaliação da universidade brasileira deve levar em conta um elemento que, na maioria das análises, é ignorado: o atraso histórico do Brasil no que diz respeito ao surgimento do ensino superior. A primeira universidade das Américas (Universidade São Tomás de Aquino) foi fundada muito cedo pelos espanhóis, em 1538, em São Domingos, hoje capital da República Dominicana. Em 1540, eles fundaram uma universidade em Michoacán, no México; em 1551 foi criada a Universidade de São Marcos, no Peru; em 1613, surge uma universidade em Córdoba, na Argentina; em 1624, funda-se uma universidade em Sucre, na Bolívia. No Brasil, em meados do século XVIII, os jesuítas mantiveram um curso superior em Salvador, que dava títulos de doutor. Porém, graças à oposição da Universidade de Coimbra, que era detentora de monopólio do ensino superior no Império Português, tal curso nunca foi reconhecido. Houve uma escola superior militar no Rio de Janeiro, a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, de 1792. Em 1808, foi fundada por Dom João VI Escola de Cirurgia da Bahia. Foram essas duas as únicas instituições de ensino superior criadas pelos portugueses no Brasil durante o período colonial, o que os coloca em enorme desvantagem com respeito aos espanhóis, que, muito cedo, criaram várias universidades em seus territórios americanos. Os ingleses tampouco demoraram em criar universidades na América. O Mayflower chegou ao Cape Cod com os pioneiros em 1620, mas a Universidade de Harvard foi criada alguns anos depois, em 1636. Em 1701, os ingleses criaram a Universidade de Yale. Quando as treze colônias se tornaram independentes, depois de apenas um século e meio de domínio colonial britânico, elas já contavam com várias universidades, algo bem diferente do que aconteceu no Brasil. Não é à toa que Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, era um físico de grande qualidade, que marcou a história da sua ciência. No Brasil, depois que o Marquês de Pombal, em 1759, expulsou os jesuítas e os mercedários, o ensino elementar foi reduzido a muito pouco, a ponto de São Paulo ficar sem escolas por cerca de quarenta anos. É verdade que, quando veio a independência, o país contou com José Bonifácio, que era um cientista formado em diversos países da Europa, mas ele era um caso excepcional. A elite brasileira de então era culturalmente tosca.
Ao longo do século XIX e no início do XX, o Brasil independente criou algumas faculdades isoladas: Direito, em São Paulo e em Olinda (1827); Farmácia (1839) e Minas (1876), em Ouro Preto; Farmácia e Química (1895), em Porto Alegre; Politécnica (1893) e Medicina (1912), em São Paulo. Em 1920, o rei Alberto da Bélgica visitou o Brasil. Para que ele pudesse receber o título de Doutor Honoris Causa, o governo criou a Universidade do Brasil (hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro), a primeira universidade reconhecida deste país. Foi só em 1934, quase quatro séculos depois da instituição pioneira de São Domingos, que o Brasil passou a contar com uma verdadeira universidade. O então governador de São Paulo, Armando Salles de Oliveira, selecionou dois homens e mandou-os à Europa para contratar professores. Eles eram o engenheiro e matemático Theodoro Ramos e o antropólogo Paulo Duarte. Ramos ficou encarregado de contratar docentes para matemática e ciências naturais. As ciências humanas ficaram a cargo de Paulo Duarte. Liberal, Salles de Oliveira pediu a Duarte que contratasse apenas profissionais provenientes de países democráticos, deixando Ramos livre para as suas escolhas. Consta que Ramos e Duarte contrataram cerca de cento e cinquenta docentes, que foram ensinar na recém-criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que, na verdade, era uma faculdade de magistério, para formar professores. O ensino, em muitos casos, era em francês (filosofia, ciências sociais), mas havia aulas em inglês (química) e em italiano (estatística). Salles de Oliveira juntou as faculdades já existentes (Direito, Politécnica, Medicina, Agronomia) àquela recém instituída e o resultado foi a Universidade de São Paulo, fundada em 1934, com atraso de alguns séculos. Em 1966, foi criada a Unicamp, cujo primeiro reitor, Zeferino Vaz, tomou especial cuidado na seleção do corpo docente, tal como ocorrera antes, na fundação da USP. Em 1976, surge a UNESP, que resultou da junção de vários campi estaduais paulistas localizados no interior. Ao longo do período 1940-70, a União gerou dezenas de universidades públicas, em alguns casos, federalizando instituições previamente existentes, como aconteceu com a UFMG (1949). De modo a que cada unidade da Federação tivesse o seu ensino superior público, foram criadas universidades em Pernambuco (1946), Bahia (1946), Ceará (1954), Paraíba (1955), Goiás (1960), Santa Catarina (1960), etc. Na verdade, em alguns casos, o governo federal negociou a criação de universidades com as respectivas bancadas no Congresso Nacional, em troca de apoio para projetos de lei provenientes do Executivo.
Como comparar as mencionadas universidades estaduais paulistas com as instituições do sistema federal? Uma resposta cuidadosa a tal pergunta teria de medir a evolução de uma infinidade de itens, o que não é fácil de ser feito. Não obstante, é certo que a USP e a Unicamp têm conseguido colocações em rankings confiáveis, como aquele do Times Higher Education (THE), ao contrário da grande maioria das instituições federais. Desde a criação da primeira universidade reconhecida com o frívolo propósito de dar um título de doutor ao rei da Bélgica, o Poder Público Federal, frequentemente, obedeceu a interesses políticos ao agir na sua área universitária. O assim chamado Projeto REUNI (2009), por exemplo, dobrou em curtíssimo prazo o número de docentes em muitos departamentos em todo o Brasil, o que causou a realização de inúmeros concursos de afogadilho e de contratações, por vezes, desastrosas. Não é assim que se trata com o ensino superior. O exemplo de Armando Salles de Oliveira, tão cuidadoso na formação de um corpo docente de qualidade, nunca foi seguido pelo governo brasileiro. Uma lição pode ser tirada de toda essa história: quando o Poder Público no Brasil resolveu criar boas instituições, ele conseguiu os seus objetivos, como o mostram sobretudo os casos da USP, do ITA e do IME.
Em termos de uma avaliação das universidades quanto de ensino, pesquisa e formação, de um modo geral, a vantagem tende a ser das universidades estaduais paulistas. Elas não são perfeitas, mas atingiram um razoável nível de desempenho profissional, ao menos para o padrão brasileiro. O sistema federal também dispõe de algumas boas instituições, como o ITA, em São José dos Campos, o IME, no Rio de Janeiro, o IMPA, também no Rio e algumas outras instituições. O ensino, a pesquisa e a extensão nestas últimas instituições têm prestígio internacional.
Resumindo estas considerações, cabe dizer que o Poder Público se atrasou secularmente ao tratar da questão universitária. Apesar disso, as autoridades paulistas conseguiram fundar algumas instituições aceitáveis, o que ocorreu em menor grau no que diz respeito às autoridades federais. Diante do imenso vazio do ensino superior neste país, o governo federal tenta criar instituições a toque de caixa. Ninguém tem mais pressa do que o negligente.
Quanto ao problema específico da instrumentalização do ensino universitário, como observa tal fenômeno ao longo das últimas décadas e como entende que se deve lidar com tal realidade?
A universidade voltada para a pesquisa e o ensino de qualidade, em princípio, tem uma organização institucional cujo resultado é um corpo docente mais estritamente profissionalizado. O docente que realiza trabalhos relevantes, em colaboração com outros profissionais, não verá com bons olhos a interrupção do seu trabalho em virtude de contingências políticas passageiras. Cada acadêmico tem a sua ideologia, mas, num ambiente de trabalho bem organizado, ele saberá distingui-la das suas obrigações profissionais, ao menos na maioria dos casos. Portanto, não é de admirar que as melhores instituições acadêmicas do Brasil tenham desenvolvido algum profissionalismo, o que implica menor tendência de instrumentalização do ensino universitário. As instituições públicas intelectualmente frágeis, por sua vez, tendem a ser as mais militantes. Não obstante, há alguma ideologização e militância em quase todo o ensino universitário brasileiro, mesmo que isso aconteça de diferentes maneiras.
Neste contexto, vale a pena citar a recente declaração do reitor do MIT, o célebre Massachusetts Institute of Technology, feita depois da eleição de Trump. Nos meios acadêmicos norte-americanos houve consternação depois da vitória desse candidato. Mas o que disse o reitor? Ele veio a público para anunciar que a sua universidade iria continuar com o trabalho usual, “crazy about science”, sempre à procura de novos fatos e de novas tecnologias. Essa curta manifestação daquele reitor merece reflexão. Pode alguém dizer que o reitor prega alienação frente a problemas nacionais? Não. Ele apenas expressa o caráter específico da sua instituição. Ao fim e ao cabo, qualquer universidade existe para desenvolver ensino e pesquisa, sendo essa a sua função. Os grandes problemas nacionais são debatidos e profissionalmente analisados na universidade, que deles nunca se afasta. Porém, o reitor sabe que a universidade presta um serviço contínuo à sociedade. Um hospital, por exemplo, também presta um serviço desse tipo, que não pode ser interrompido, seja lá qual for a ideologia de médicos e outros profissionais de saúde. Logo, por mais perturbadora que seja a eleição de Trump, o MIT e os hospitais continuarão trabalhando. Algum dia, o novo presidente vai ser substituído, mas a universidade prosseguirá com a execução de suas tarefas.
Recentemente, centenas de escolas foram ocupadas por alunos secundaristas. Não demorou muito para que o mesmo acontecesse com muitas universidades federais, que ficaram sem aula por várias semanas, liquidando com todo um semestre letivo. Os estudantes protestavam contra uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC do Teto) e contra um projeto de reforma no ensino médio. O pior dessa história foi o fato de que, com exceções, os docentes tenham apoiado o assim chamado “movimento dos estudantes” (organizado não se sabe bem por quem). “A Proposta é ruim”, foi o que disseram muitos professores, que colocaram as suas avaliações políticas a serviço da interrupção de um serviço contínuo. Quem faz isso, é um mau profissional. Como lidar com esse fenômeno de mau profissionalismo? Talvez seja possível mitigar tal tendência por meio da elevação do nível das universidades, levando-as a pesquisar mais, a publicar mais, a internacionalizar o seu trabalho, a organizar-se de modo mais adequado e assim por diante. Não há solução fácil para o problema da instrumentalização de toda a vida universitária por parte de grupos militantes, uma tendência que se verifica em muitos países do mundo. Porém, em boas universidades, a ocorrência desse fenômeno tende a ser menos frequente e menos intensa.
Qual função desempenham os intelectuais acadêmicos nos debates públicos? A contribuição deles, efetivamente, se dá no sentido de elevar o nível da discussão?
Na atual situação brasileira, os intelectuais que, de facto, têm acesso aos meios de comunicação mais atrapalham do que ajudam. A mídia abre espaço sempre para os mesmos acadêmicos; em todo o país, o público amontoa-se para ouvir as mesmas celebridades. Ao final, todos eles dizem o que o público já sabia que iria ouvir, mas, mesmo assim, os aplausos chegam aos turbilhões. Num ambiente mais honesto, o intelectual deve fazer ver que ele não é detentor de nenhum saber inefável, que não tem nenhuma chave mágica para a solução dos problemas da sociedade, que não é nenhum ser superior aos demais. Em tese, o trabalhador, a dona de casa, o profissional liberal, gente de todos os estratos, têm algo a dizer nos debates públicos. Entretanto, o intelectual detém maior domínio da palavra, comando sobre a linguagem, ele dispõe de recursos de organização mental que, no mais das vezes, as demais pessoas desconhecem. O intelectual tem elementos privilegiados a ele fornecidos durante a sua formação pela própria sociedade, que lhe pagou os estudos. Ora, esse privilégio quanto a linguagem, informação e método pode ser usado em proveito próprio (o que é o mais comum) ou em benefício da sociedade. Como pode o intelectual participar dos debates públicos sem os transformar em picadeiros de autopromoção?
Quatro itens são indispensáveis nesse contexto: competência profissional, capacidade de argumentação racional, autonomia intelectual e honestidade pessoal. O que faz do intelectual um interlocutor válido nos debates públicos é o seu saber específico, fruto da sua formação universitária e do seu trabalho de pesquisa. Num debate sobre o meio ambiente, o ecólogo profissional, em princípio, tem algo de importante a dizer, algo que, talvez, as demais pessoas ignorem. Ora, numa sociedade democrática, esse saber específico deve ser levado aos demais interlocutores de maneira argumentativa, racional, acessível a todos, inteligível por todos. Além disso, é importante que se veja no intelectual alguém dotado da habilidade de formular suas próprias ideias, de pensar por si mesmo, o que exclui o indivíduo sectário, representante dos interesses de algum partido político ou servidor de alguma tendência ideológica. Por fim, a honestidade pessoal é um elemento moral que permeia relações humanas. Nesse contexto, o intelectual tem a função de esclarecer questões, em benefício da sociedade, para que esta possa tomar decisões mais adequadas. Só então eles podem elevar o nível das discussões, o que ora não acontece.
Diante das questões já colocadas, (formação intelectual e cultural, educação sem doutrinação e monopólio ideológico, interação entre academia e debate público) qual pode ser o efeito da internet sobre o nosso cenário?
Ao final da Idade Média, Johannes Gutenberg inventou a imprensa, imprimindo a primeira Bíblia entre 1450 e 1455. Com certeza, ele tinha consciência de que inventara algo muito novo, mas não poderia ter ideia do incrível alcance da sua invenção. A produção intelectual da Renascença, a Reforma Protestante e mesmo a Revolução Científica foram processos históricos possibilitados pela criação técnica de Gutenberg. Curiosamente, os intelectuais da época opuseram-se ao novo invento. Eles estavam acostumados às bíblias manuscritas, cheias de lindas iluminuras, obras caras produzidas por hábeis monges copistas. De repente, muitas bíblias em branco e preto estavam disponíveis, o que pareceu feio ao refinado gosto dos acadêmicos de então. De qualquer maneira, a Bíblia de Gutenberg venceu. Ainda hoje nós enumeramos algumas vantagens trazidas pelo novo invento. Antes dessa tecnologia, o processo de produção de uma única bíblia exigia o sacrifício de cento e cinquenta carneiros, ou seja, de todo um rebanho, pois escrevia-se sobre a pele desses animais. Portanto, ao superar tal sacrifício, a Bíblia de Gutenberg também teve uma importante função ecológica, o que não se terá percebido no século XV.
Mutatis mutandis, considerações análogas valem para a Internet, uma tecnologia nova, que já chegou modificando por completo as formas de comunicação humana, fortemente generalizadas com a inclusão do celular. Como sempre acontece com invenções importantes, as pessoas de hoje perguntam-se como era possível a vida sem Internet há apenas quatro décadas atrás.
Ora, assim como Gutenberg não podia antever o alcance da sua invenção, assim também não se pode ainda avaliar com precisão as potencialidades dessa nova forma de comunicação que é a Internet. Professores, por exemplo, intuem que ela pode revolucionar o ensino, mas ainda preservam grande parte dos recursos didáticos tradicionais. A adaptação a essa incrível tecnologia nos mais diversos domínios ainda vai durar muito tempo. O mesmo vale no que diz respeito à relação da Internet com a participação dos cidadãos na vida política, com os procedimentos eleitorais, etc.
Já agora, entretanto, no que tange ao debate público de ideias, os efeitos da Internet são notáveis. Veja-se o Facebook, que possibilita contacto instantâneo entre pessoas ao redor de todo o mundo, independentemente das línguas que elas falem. A grande vantagem e também o grande problema desse tipo de acesso pessoal direto é a liberdade de cada indivíduo de escrever e postar o que ele quiser, sem censura de qualquer tipo. É ótimo que as pessoas possam expressar-se à vontade, mas a pedofilia na Internet, o recrutamento ideológico feito por extremistas, os apelos à discriminação e à violência, etc, tudo isso preocupa. As sociedades ainda vão precisar de muito tempo até aprenderem a lidar com esses problemas. O debate ideológico no Brasil de hoje feito via Internet poderia ter melhor qualidade. Há muito sectarismo primário em todas as direções, o que é ruim. No mais das vezes, há pseudodebates, pois alguém lança um tema que é sucedido por múltiplas postagens, mas sem uma troca efetiva de ideias. Já se disse que cada um encontra ali apenas a si mesmo. De qualquer maneira, para o bem ou para o mal, a Internet é uma realidade, à qual cada um tem de se adaptar. No caso específico do Brasil, a Internet acabou com o monopólio ideológico da esquerda. Esta continua a ter a palavra, mas não é mais a única a falar. Apesar de todo o primarismo da maioria das discussões, esse item é positivo.
Como avalia a situação histórica da filosofia contemporânea, ou seja, a maneira como ela tem se posicionado em seu diálogo com as ciências, com a política e a cultura em geral, ao longo desses dois últimos séculos?
Vale a pena recuar um pouco mais, até Immanuel Kant, isto é, ao final do século XVIII. Em termos gerais, esse filósofo ensinou que a ciência conhece o mundo, cabendo à filosofia conhecer a ciência. A assim chamada filosofia transcendental (Kant) não se preocupara com objetos, mas sim com as condições de possibilidade do conhecimento de objetos. Essa filosofia dedica-se a estudar todas as estruturas que, pretensamente, estão subjacentes ao conhecimento científico. Ao final do século XVIII e no início do XIX, o idealismo que se segue às formulações de Kant vai numa direção mais dramática. Hegel constrói uma filosofia que, pretensamente, seria um conhecimento universal omniabrangente capaz de superar os diversos saberes particulares, que somente teriam sentido pleno quando inseridos no contexto maior da teoria hegeliana. Hegel tornou-se professor da Universidade de Berlim em 1830, onde reuniu grandes públicos interessados em ouvi-lo. Dois anos antes, Alexander von Humboldt, o grande naturalista que trabalhou na América do Sul, também atraíra multidões ao pronunciar conferências naquela mesma universidade, nas quais relatou sobre as suas pesquisas eminentemente empíricas. Se algum interessado ouviu Von Humboldt e Hegel, ele terá se perguntado sobre o melhor método para o conhecimento da natureza: especulação (Hegel) ou observação (Von Humboldt)? Ao longo do século XIX, essa pergunta foi reformulada de muitas maneiras, em diferentes contextos, mas ela esteve no centro das elaborações filosóficas em torno da ciência. O cientista austríaco e filósofo positivista Ernst Mach, por exemplo, ao final do século XIX, formulou críticas contundentes contra as noções newtonianas de espaço e tempo, críticas essas que influenciaram de modo decisivo as ideias de Einstein sobre relatividade.
No caso da matemática, o final do século XIX assistiu a todo um trabalho de fundamentação, que, graças aos trabalhos de Gottlob Frege, Giuseppe Peano, Bertrand Russell e outros passou por uma ampla reforma da lógica, com enormes consequências em diversos ramos da filosofia. Até os anos 1930, a presença da filosofia nesse tipo de atividade intelectual foi relevante. A reflexão sobre a natureza da ciência percorreu todo o século XX, ganhando consideráveis dimensões com os trabalhos de Wittgenstein, Carnap, Popper, Quine, Kuhn e muitos outros. Nesse sentido, nos últimos dois séculos e meio, a filosofia não negligenciou a reflexão sobre a ciência. Com respeito à política e à cultura, nomes controversos como o de Karl Marx e de Friedrich Nietzsche merecem ser citados com destaque. Marx elaborou a sua teoria social em bases supostamente históricas, teoria essa que logo ganhou dimensões políticas concretas. Com a Revolução Russa, para o bem ou para o mal, a concepção de Marx modificou a história. Nietzsche foi um espírito crítico analítico inquieto, que tratou de desmitificar os mais diversos aspectos da realidade humana. A influência de Nietzsche sobre múltiplos ângulos do pensamento e da cultura dificilmente poderá ser exagerada. Mas o quadro de contribuições filosóficas à política e à cultura no último século e meio não se restringe a Marx e a Nietzsche. Só a título de menção, cabe citar os excepcionais trabalhos sobre justiça na vida pública elaborados nos anos 1970 por John Rawls e por Robert Nozick.
Em décadas recentes, infelizmente, certos sintomas de decrepitude têm abalado também a filosofia. O pós-moderno com as suas tendências irracionalistas atrai mais atenção do que seria de se esperar. Um filósofo como Slavoj Žižek, que tenta resgatar o stalinismo e que sempre tem palavras de compreensão frente à violência, é ouvido por multidões em todo o mundo e tomado a sério, a ponto de haver revistas dedicadas ao estudo da sua obra. Tais sintomas de senilidade são sinais de possível declínio da filosofia contemporânea, sem que se possa saber se passageiro ou definitivo.
Prof. Nelson Gomes graduou-se em Filosofia na Pontifícia Universidade de São Paulo com mestrado em Filosofia (especialização em Lógica). Foi docente de História da Filosofia no Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto (SP), tendo obtido doutorado em Filosofia na Universidade de Munique (Alemanha), e no London School of Economics (Departamento de Filosofia), Inglaterra; e pós-doutorado na Universidade de Oxford (Inglaterra). Doutor-Titular aposentado, área Lógica, Filosofia da Lógica e Ética da UNB, Universidade de Brasília, Brasil.
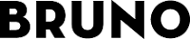
Que felicidade senti ao ler essa entrevista! Tive o grande privilégio de ser aluna do professor Nelson. Foi o melhor professor que já tive. Nelson nos ensina múltiplas coisas apenas com uma frase. Me emociona o cuidado e a elegância na forma como expõe seus pensamentos. Parabéns, Bruno!